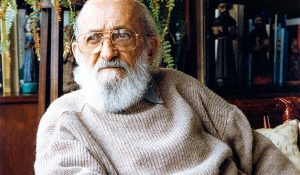NOTÍCIA
Educação no Mundo
Aula de sobrevivência
Conflitos armados ao redor do mundo fazem, todos os dias, 39 milhões de vítimas. É esse o número de crianças que deixam de freqüentar a escola por conta das guerras
Publicado em 10/09/2011

|
|
Crianças brincam num prédio destruído por conflito em Gulu, região setentrional de Uganda |
Todos os dias, o mundo conta milhões de vítimas dos diversos conflitos armados que se espalham pelo mundo, fundados ora na disputa pelo poder político, ora na intolerância religiosa, ora na desigualdade social que distingue etnias vivendo em um mesmo território, ora em tudo isso ao mesmo tempo. A essa deprimente conta é preciso somar outros 39 milhões de vítimas: é esse o número de crianças que, diariamente, deixam de freqüentar a escola nos países afetados por conflitos, guerras, guerrilhas e ocupações. Esse contingente representa mais de 50% do total de 77 milhões de meninos e meninas que se estima estarem fora do sistema formal de ensino em todo o mundo.
Como mostram relatórios de ONGs e organismos internacionais e também o relato de educadores que trabalham nesses países, são diversas as formas como o contexto de guerra afeta o dia-a-dia da educação, seja em zonas de conflito atuais ou em regiões que tentam se reconstruir após anos de guerra. A soma de insegurança e empobrecimento da população ao comprometimento da infra-estrutura escolar e a vitimização direta de estudantes e professores compõe a matriz de um dado estatístico aterrorizante: uma em cada três crianças em países afetados por conflitos está fora da escola.
Com medo
Nesses lugares, quando meninos e meninas conseguem acesso ao ensino formal, a qualidade da educação que recebem está longe do ideal por razões tão prosaicas quanto o horário de funcionamento das escolas. "Todos vivem sob o medo de serem atacados fisicamente ou roubados. Por essa razão, as escolas abrem sempre muito tarde. Nunca no horário oficial, que é 7h30, mas quase sempre às 10h. E, de novo, por medo de serem emboscadas por guerrilheiros ou rebeldes, as crianças têm de voltar antes das 15h. Então, as escolas fecham às 14h30", relata Joseph Okurut, professor e coordenador de um programa de apoio à educação mantido em conjunto pelas igrejas católica e luterana em Uganda.
A ineficiência de um sistema que tem de funcionar em condições como essa é atestada pela taxa de abandono escolar, em torno de 30% ao ano. Apenas 10% das crianças completam o primário. "Abandonam para fazer outras coisas, principalmente trabalhar", diz o professor ugandense.
A pobreza não é a única razão para que meninos e meninas deixem de lado a oportunidade educacional. Há também o medo de que algo ocorra dentro da escola ou a caminho dela.
Escolas e seus arredores são os territórios preferidos dos exércitos, oficiais e não-oficiais, para recrutar forçadamente crianças, meninos em especial. Relatório do Representante Especial da Secretaria-Geral da ONU para Infância e Conflitos Armados registra que, em 2005, 250 mil crianças eram usadas como soldados e que o recrutamento seguia acontecendo em países como Burundi, Chade, República Democrática do Congo, Colômbia, Mianmar, Nepal, Somália, Sudão e Uganda.
 |
(CLIQUE NA FIGURA PARA AMPLIAR)
Desafios para o professor
Violência e insegurança afastam também os professores das escolas. Para ficar no exemplo latino-americano, a Federação Colombiana de Educadores (Fecode) registra que, só em 2006, 29 professores do interior do país buscaram abrigo em Bogotá após seguidas ameaças das guerrilhas de inspiração comunista ou das milícias de direita. Todos são considerados perseguidos políticos. Em muitos países (leia texto na pág. 46), os professores são identificados como lideranças locais que podem criar alguma resistência nas comunidades que se tenta controlar, e, por essa razão, são pressionados a deixar suas casas ou escolas.
No Sudão, mesmo as regiões pacificadas ainda sofrem com o problema. "No sul do Sudão (região mais afetada pelos conflitos, onde se concentra o maior número de campos de refugiados e ainda há focos de combates), não temos o número suficiente de professores, porque aqueles que foram treinados antes da guerra buscaram trabalhos melhores em ONGs, ou foram forçados a fugir para outros países", descreve Margaret Ayite, funcionária do Ministério da Educação para o Sul do Sudão. "A capacidade docente, portanto, é muito baixa. Temos de recrutar pessoas que ainda estão no nível primário para serem professores do nível primário."
Trabalhando no Timor Leste como coordenadora do Projeto ProFormação, do Ministério da Educação, Wandelci Peres enfrenta diariamente o desafio de capacitar os professores que não puderam ser formados durante os quase 25 anos de ocupação do país pela Indonésia. A falta de recursos humanos é apontada pela docente brasileira como a principal razão para que o país asiático não avance rumo ao objetivo expresso do governo de ter educação pública para todos. "Simplesmente, não houve tempo ainda para se formar professores em número suficiente", diz Wandelci.

|
|
Muitas crianças voltaram a estudar em Uganda a partir de 2002, mas o colapso educacional do país ainda não foi resolvido |
Uma vez em sala de aula, os desafios multiplicam-se. Por exemplo, pensar no quê, afinal, ensinar para crianças cujo maior desafio é, simplesmente, sobreviver. Em tal cenário, o relato de Joseph Okurut sobre o desinteresse de alunos, pais e também dos docentes de Uganda nos conteúdos e formas tradicionais de ensino faz todo o sentido. "Na escola, não há tempo suficiente para dar conta do currículo. Assim como as crianças e os pais, os professores não ligam para isso. Os pais nem olham para os resultados dos filhos, afinal eles precisam pensar se estão seguros e se têm o que comer."
A opção, segundo Okurut, tem sido criar currículos colaborativos, em que as crianças opinam sobre o que querem ou precisam aprender. O que também é difícil: meninos e meninas imersos em realidades muitas vezes subumanas não costumam agir de forma participativa ou independente. Quando superam essa etapa, as demandas que apresentam aos professores incluem habilidades de sobrevivência, que vão dos temas diretamente ligados aos conflitos, como proteção pessoal e contra a epidemia de HIV, à necessidade de ganhos econômicos. "Estamos tentando trabalhar com agricultura orgânica. Com essas habilidades, elas podem obter alguma renda e contribuir para o desenvolvimento da educação. Podem passar a pagar as taxas escolares dos irmãos e irmãs, ou mesmo para seus filhos no futuro", conta.
Em regiões pacificadas, muitas vezes o trabalho é reverter os anos de afastamento da população de qualquer tipo de sistema escolar. Fatma Abdilahi, coordenadora do Education Program, da ONG Save the Children UK em Somaliland (a porção nordeste da Somália, considerada território soberano dentro do país), diz que o primeiro grande desafio pós-trégua (no ano 2000) foi identificar os diferentes grupos de crianças e por que não iam à escola. Descobriu-se que muitas não freqüentavam as aulas por conta das atividades pastoris, fonte de sustento de 75% da população somali. "Criamos as escolas pastoras, que acompanham o grupo para onde eles estiverem se dirigindo. Normalmente se instalam em uma vila por cerca de seis meses. Depois desse tempo, viajam de lugar em lugar. Oferecemos tendas para que a escola possa ir com eles", relata.
Etnias e religiões
Outro desafio bastante presente é o de dar conta das divisões étnicas ou religiosas que, muitas vezes, estão ou estiveram no centro dos conflitos. Tais divisões marcam tanto a forma como a educação se organiza, como o funcionamento das salas de aula mesmo no pós-conflito.
No Sudão, os antigos conflitos entre o norte, de maioria muçulmana, e o sul, onde minorias de confissão cristã dividem espaço com os povos de tradição islâmica, dividiram também o currículo escolar. "Durante a guerra, as áreas sob controle do governo implementaram o currículo do norte, enquanto as pessoas e as escolas do sul tomavam emprestado o currículo dos países vizinhos", explica Margaret Ayite. Além de criar tensões religiosas, uma vez que muito da estrutura oficial tinha orientação muçulmana, reproduziu-se também nas escolas o problema de identidade nacional.

|
|
Aula em um dos campos para refugiados do Sudão: 21 anos de conflitos entre o norte e o sul do país |
O trabalho de unificação curricular começou em 1994, mas ao chegar ao ministério, dois anos atrás, Margaret percebeu que tinha muito a fazer. "Ainda havia diferenças. Deixar para trás o sistema arábico leva tempo. Há muçulmanos no sul, portanto tem de se manter algumas coisas, mas não queremos encorajar o ensino islâmico em todas as escolas."
Mudar certas regras pode significar enfrentar conceitos e preconceitos arraigados, defendidos por boa parte da população. Por exemplo, a solução para os anos de ditadura talebã no Afeganistão e, parcialmente, do conflito armado instaurado pela ocupação estadunidense não resolveu automaticamente o problema enfrentado pelas meninas e mulheres afegãs para freqüentar a escola, porque a interpretação da religião muçulmana feita pelos talebãs continua sendo pertinente para uma significativa parcela da população. Dirigentes educacionais e professores que defendem e trabalham em escolas para meninas são, freqüentemente, assassinados.
Quando a escola finalmente volta a ser espaço de convivência, nem sempre tudo são flores, como aponta a experiência da brasileira Wandelci no Timor Leste. "No seio da escola, vêem-se muitos problemas relacionados a diferenças étnicas. Criaram-se pequenos grupos, que disputam entre si, dividindo as pessoas das escolas em grupos rivais, prejudicando as relações entre professores e alunos."
O problema estrutural
Se a natureza dos conflitos cria tantos problemas diferentes, pelo menos um é unanimidade nos relatos de educadores trabalhando em países afetados por guerras: em todos eles, a infra-estrutura educacional foi dizimada. "As escolas foram destruídas", diz Wandelci sobre o Timor. "A infra-estrutura estava arrasada", fala Fatma, sobre a Somália pós-guerra civil.
Mas de tal forma parecem acostumados com o fato de que escola não é sinônimo de sala de aula, quadro, giz, livros, mesas e cadeiras que são poucas as citações ao que se poderia considerar situação inusitada. Margaret Ayite lembra que, nos enormes campos de refugiados no sul do Sudão, escola pode ser uma tenda ou uma árvore. E pode variar, de acordo com o lugar onde o professor se abriga naquele dia.
O abalo estrutural, entretanto, não se limita aos prédios escolares. Nesses lugares, o Estado não tem condições básicas para estabelecer políticas educacionais fortes e perenes.

|
|
Meninas em sala de aula na escola central Kasubi, em Gulu, Uganda: conflitos entre o governo local e rebeldes sacrificaram a educação de toda uma geração |
De um lado, há a questão econômica. Nesses países, ou é "preciso" gastar mais com a guerra em andamento, ou simplesmente a economia demolida pelos conflitos não resulta em arrecadação suficiente para os governos. Exemplo dessa matemática triste é citado por Joseph Okurut, de Uganda: "O Departamento Distrital de Educação de Soroti tem um orçamento equivalente a mais ou menos US$ 100. Para o ano todo!"
Do outro lado, há a falta de pessoas capacitadas para as funções administrativas. "As pessoas desconhecem formas administrativas, de organização de projetos e uso de recursos. A maior parte dos funcionários dos ministérios não entende de administração, não fala português ou inglês, nem possui formação superior", relata outra brasileira no Timor Leste, Fabiana Ribas.Isso sem falar na corrupção.
Dinheiro que não vem
Esse cenário favorável ao "desperdício" tem sido usado como justificativa para uma conta que não fecha: os países afetados por conflitos, justamente os que concentram a maior parte da população infanto-juvenil fora da escola, recebem a menor parcela dos recursos internacionais disponíveis para a educação. Levantamento feito pela Save the Children mostra que apenas 18% do montante da ajuda internacional é destinado a essas nações, enquanto 49% do total doado pelos países mais ricos é investido em países em desenvolvimento, com renda mediana. Os outros 33% seguem para as nações mais pobres, porém pacificadas.
Para a ONG, é possível criar mecanismos de financiamentos e programas específicos que driblem os problemas. Da mesma forma que, todos os dias, professores e alunos driblam a guerra e seus horrores para seguir ensinando e aprendendo.
Alvo privilegiado
Ataques a escolas, universidades e educadores muitas vezes são deliberados
Levantamentos sobre ataques terroristas mostram que, cada vez mais, escolas e universidades tornam-se alvo preferencial. Uma das fontes usadas para compor o estudo "Education under Attack" (Educação sob Ataque), publicado pela Unesco em abril deste ano, aponta que forças terroristas internacionais levaram a cabo 314 ataques contra escolas. Foram registrados casos na Bósnia, Chechênia, Israel, Malásia, Holanda, Timor Leste, Afeganistão, Filipinas e Turquia. O mais marcante segue sendo o ataque à escola em Beslan, na Rússia, em 2002, quando rebeldes chechenos mantiveram mais de 700 pessoas reféns. Cerca de 300 pessoas, entre alunos, pais e professores, morreram, vítimas dos terroristas ou alvejadas em meio ao fogo cruzado da operação de resgate.
Uma razão óbvia para essa preferência por escolas e universidades como alvos seria o grande número de pessoas circulando. Mas não é só. O valor simbólico da educação muitas vezes determina o destino de educadores, estudantes e das escolas dentro dos conflitos.
No Iraque, por exemplo, as ameaças, os atentados e assassinatos seletivos de professores universitários fazem parte de estratégias de controle político do país. Tanto os grupos sunitas como os xiitas, duas das etnias que disputam o poder no país, parecem acreditar que diminuir a força intelectual do opositor facilitará a chegada ao controle do governo após a retirada das tropas norte-americanas.
Nos territórios ocupados da Palestina, a destruição sistemática de escolas fazia parte dos planos militares da famosa Operação Escudo de Defesa, perpetrada pelo governo israelense no ano de 2002. As escolas foram consideradas como infra-estrutura importante em uma possível resistência à ocupação.
Os tipos de ataques sofridos por membros da comunidade escolar ou pelas instituições educacionais variam de acordo com a natureza dos conflitos. Em vários países da África, marcados pelas disputas entre grupos étnicos ou religiosos rivais, ataques-surpresa e o incêndio criminoso dos prédios são usados como técnicas para espalhar pânico. As disputas políticas envolvendo governos e grupos armados com inspiração política ou separatista, como ocorre na Colômbia, Nepal e Tailândia, incluem nesse menu de horrores as ameaças, seqüestros, assassinatos, prisões arbitrárias e tortura de educadores, em geral sob acusação de que fazem parte ou apóiam o grupo opositor.
Um documentário brasileiro finalizado neste ano ilustra bem o problema: em Grassroots, o diretor brasileiro André Ferezini mostra como o regime do Khmer Vermelho dizimou professores e intelectuais do Camboja nos anos 70, criando um país acéfalo.
Leia também:
A ROTINA DO TRÁFICO
No Rio de Janeiro, horário de escolas é condicionado pelo medo
Cristina Charão, da Agência Repórter Social
Leia Educação no Mundo